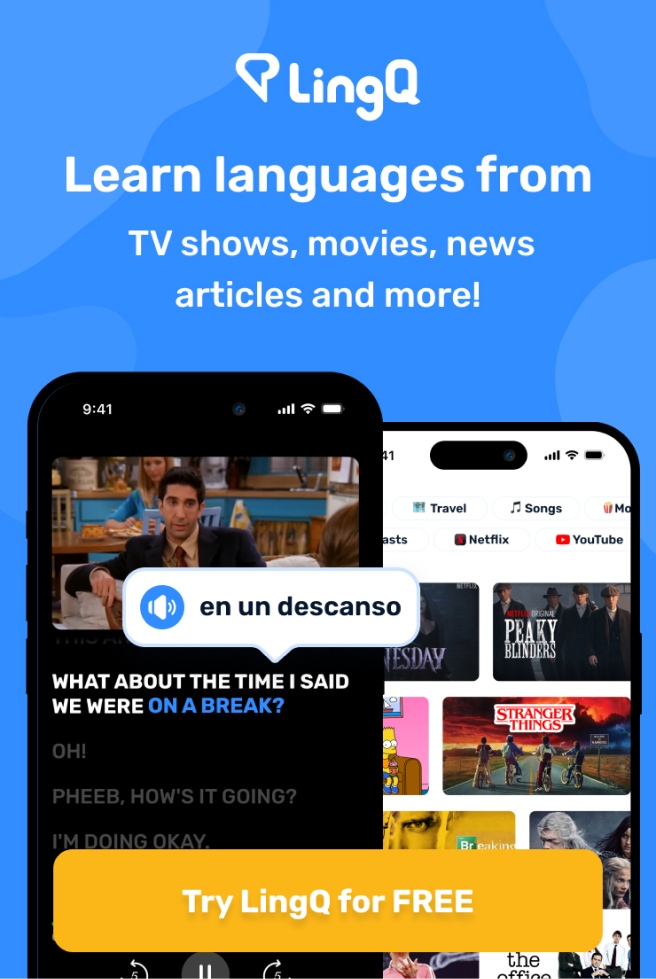As origens da guerra na Síria
A guerra na Síria é tão complexa, abrangente e duradoura que é difícil definir até mesmo
quando ela começa e quando ela termina.
É difícil também descrever com precisão quais países participam ativamente dessa guerra,
de que lado estão, e quais são suas verdadeiras intenções.
Para entender o que se passa agora, neste que é um dos mais influentes países do Oriente
Médio, é preciso recuar no tempo.
Até, pelo menos, o início da colonização francesa da Síria.
No ano de 1920, a Síria passou a ser governada pela França.
Toda a região do Oriente Médio estava sendo redesenhada de acordo com os interesses das
potências europeias.
E a França, como uma das vencedoras da Primeira Guerra Mundial, tomou a Síria para si naquele ano.
Antes disso, a Síria era parte de um vasto império, o Império Otomano.
Com a desintegração provocada após o fim da Primeira Grande Guerra, a Síria tornou-se
o maior pedaço desse império desfeito, e permaneceu sob mandato francês por 25 anos.
Essa situação só foi alterada depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945.
A situação da França durante a Segunda Guerra foi muito peculiar.
Uma parte dos franceses engajou-se na chamada Resistência à ocupação nazista.
Essa parte era encorajada por um célebre exilado francês, o general De Gaulle.
Mas uma outra parte da França se rendeu e aceitou a ocupação nazista de Paris.
Essa era a chamada República de Vichy, do general Petain.
Essa divisão fez com que a França do pós-guerra terminasse ao mesmo tempo vitoriosa e envergonhada.
E um dos reflexos dessa vergonha nacional foi a retração da República de Vichy em
relação a seu mandato sobre países estrangeiros como a Síria.
A Segunda Guerra terminou em 1945.
Naquele mesmo ano, a Síria tornou-se membro da recém fundada Organização das Nações Unidas.
E, no ano seguinte, em 1946, as últimas tropas francesas finalmente se retiraram.
Outros países do Oriente Médio estavam passando pelo mesmo processo de independência.
Buscavam, todos eles, firmar sua identidade e trilhar seu próprio caminho.
Nessa busca, seguiram-se brigas internas, golpes e contragolpes.
No caso da Síria, esse processo turbulento da independência só encontrou certo equilíbrio
a partir de 1963 quando o Partido Baath chegou ao poder.
Compreender o baathismo é uma forma de compreender
boa parte da história contemporânea do Oriente Médio.
O baathismo é uma corrente política que defendia o nacionalismo árabe, rechaçava
a interferência de potências estrangeiras na região e defendia o socialismo.
O Baath emplacou seus líderes em dois países: na Síria, com Hafez al-Assad, que é pai
do atual presidente sírio, Bashar al-Assad.
E no Iraque, com Saddam Hussein.
No vizinho Iraque, o baathista Saddam Hussein foi derrubado, condenado e enforcado em dezembro
de 2006, depois de ter passado 34 anos no poder.
No caso da Síria, foi diferente.
A família Assad está há quase 50 anos governando.
Hafez al-Assad assumiu em 1971 e comandou a Síria com mão de ferro até o ano 2000.
Aí, foi sucedido pelo filho, Bashar al-Assad, que venceu uma eleição fraudada e sem concorrentes,
abrindo caminho para permanecer até hoje no controle do país.
De forma geral, os EUA e as potências europeias não apenas toleraram líderes despóticos
por todo o Oriente Médio, como também os protegeram, incentivaram e deram armas a eles
durante décadas.
Isso aconteceu com Saddam Hussein, no Iraque; com Hafez e Bashar al-Assad, na Síria; e
também com Muamar Kadafi, na Líbia.
Esses líderes seculares, não religiosos, eram vistos como uma possibilidade mais moderada
em comparação com líderes religiosos, como os aiatolás que, em 1979, tomaram o poder
no Irã.
Mas não foi assim.
Envolvidos em grandes massacres internos, esses líderes foram se tornando companhia
tóxica para um Ocidente que queria cada vez mais petróleo e menos problemas na região.
Saddam foi morto em 2006.
Kadafi, foi morto em 2011.
E foi em 2011 também que Assad esteve mais perto de seu fim.
Naquele ano, uma série de protestos levaram à queda de presidentes autoritários e a
mudanças de regime em países do Oriente Médio e do Norte da África.
A onda de manifestações ficou conhecida como Primavera Árabe.
Os ventos da primavera mudaram os governos da Tunísia, do Egito, do Iêmen e do Barein,
e arrancaram concessões importantes em mais de dez outros países.
Mas essa onda estancou na Síria, dando início à guerra que se desenrolou em seguida.
A violência teve início quando Assad, cuja família já estava há 40 anos no poder,
começou a reprimir os protestos populares que pediam mudanças políticas do país.
O presidente sírio olhava ao redor e temia ter o mesmo destino dos líderes do Egito
e do Iêmen, que acabaram depostos.
Ou ainda pior: Assad temia ser morto, como ocorreu com Saddam Hussein no Iraque e com
Muamar Kadafi na Líbia.
Por isso, redobrou a repressão.
Não há cifras precisas, mas o relatório de 2016 da ONU, com base em dados de 2014,
já falava em 400 mil mortos.
Como em muitos conflitos no Oriente Médio,a religião, nesse caso, também tem um papel importante.
Mas de um jeito diferente.
Assad é alauíta, uma corrente minoritária do xiismo.
A mulher dele, Asma, é sunita.
O casal foi educado na Europa.
Ambos são impregnados por uma cultura cosmopolita e nunca fizeram da religião um assunto de primeira ordem.
O pai de Assad, Hafez, chegou a derrubar a exigência constitucional de que todo presidente
sírio fosse muçulmano.
Para a família Assad, o mais importante era manter-se secular, não religioso.
E esse é um dado importante para entender a guerra: Assad se mostra ao Ocidente como
um líder moderado e secular que resiste à pressão de fundamentalistas islâmicos.
Os mesmos fundamentalistas islâmicos que assustam o mundo todo com o terrorismo.
Um dos argumentos para reprimir os manifestantes de 2011 e para lançar uma guerra total contra
seus opositores foi colocar todos eles na gaveta do chamado “fundamentalismo islâmico”
e, assim, cacifar-se como o único capaz de combatê-los.
É como se Assad dissesse: escolham entre eu ou eles.
Com isso, diversos intelectuais, jornalistas, artistas e estudantes que criticavam Assad
pacificamente começaram a deixar o país.
O terreno do protesto social foi se tornando cada vez mais o terreno para quem estava apto
e disposto a bater de frente contra as forças do governo fisicamente.
E, assim, teve início, em 2012, a etapa realmente aberta da guerra civil.
Logo no ano seguinte, em 2013, Assad foi acusado de lançar um ataque químico, com gás sarin,
nos arredores de Damasco.
O então presidente americano, Barack Obama, advertiu Assad, dizendo que o uso de armas
químicas equivalia a cruzar uma “linha vermelha”.
A fala sugeria uma ameaça de intervenção militar direta dos EUA, mas ela não aconteceu.
Pelo menos, não naquele ano.
Foi também em 2013 que o núcleo do que viria a ser o Estado Islâmico, ainda no vizinho
Iraque, percebeu a oportunidade de expandir suas ações internacionais cruzando a fronteira
com a Síria.
Essa estratégia foi facilitada pelo fato de o governo ter perdido controle sobre vastas
extensões do território.
Uma vez cruzada a fronteira da Síria, o Estado Islâmico cresceu, se internacionalizou e
se fortaleceu, controlando poços de petróleo, incrementando sua receita e o recrutando cada
vez mais membros.
Foi na Síria – e também no Iraque – que o Estado Islâmico destruiu algumas das ruínas
mais preciosas da antiguidade.
Algumas com mais de 3 mil anos.
A entrada do Estado Islâmico na Síria e a violência extrema e midiatizada de seus
atos, com decapitações e outras execuções brutais televisionadas, levou americanos
e russos a entrarem de vez na guerra.
Os americanos montaram uma coalizão com pelo menos seis países.
Além de fornecerem armas, informações e treinamento aos rebeldes, eles também começaram,
em 2014, a participar diretamente de grandes operações militares, dirigidas sobretudo
contra alvos do Estado Islâmico.
No ano seguinte, em 2015, os russos tomaram o mesmo rumo.
Acompanhados sobretudo pelo Irã, eles também começaram a bombardear o Estado Islâmico.
Mas não apenas isso.
A Rússia passou a atacar os grupos rebeldes, e a proteger o governo Assad.
O Irã é governado por um regime teocrata xiita que financia o grupo Hezbollah no Líbano,
e que passou a também apoiar Assad, ampliando sua influência geopolítica no Oriente Médio.
O Nexo tem um vídeo só sobre a história e o papel do Irã na região.
Vale a pena conferir.
Com tudo isso, o conflito sírio passou a funcionar na lógica da Guerra Fria, com russos
e americanos medindo forças por meio de atores locais.
Essa internacionalização do conflito sírio levou a uma das maiores tragédias humanitárias do mundo.
Mais de 5 milhões de sírios abandonaram o país desde o início do conflito.
Dos que ficaram, 13 milhões dependem de ajuda humanitária para sobreviver.
Os países ao redor - especialmente o Líbano e a Turquia - receberam metade de todos os
sírios que fugiram da guerra mundo afora.
Mas foi na Europa que a crise migratória provocou o maior impacto político, dando
combustível para uma extrema direita nacionalista que fez do rechaço aos imigrantes em geral
uma bandeira.
O ano de 2017 marcou derrotas definitivas do Estado Islâmico na Síria e no Iraque.
Foi nesse ano que uma combinação heterogênea de forças proclamou vitória sobre os terroristas
nas cidades de Raqqa, na Síria, e Mossul, no Iraque.
Essa combinação de forças foi formada por iraquianos, turcos, americanos, rebeldes sírios,
sunitas e xiitas.
Mas contou com a presença fundamental de um ator em particular: os curdos - um povo
que reivindica a criação de um Estado próprio numa região que abrange parte dos territórios
da Síria, do Iraque, da Turquia.
Preocupados com a própria sobrevivência enquanto nação, os curdos construíram alianças
heterodoxas, desempenhando papel importante em toda a guerra da Síria, mas recebendo
de volta um reconhecimento ainda incerto.
Em 2019, os EUA finalmente anunciaram a retirada de suas tropas da Síria, mesmo que com base
num cronograma ainda errático.
De um jeito ou de outro, todos proclamaram vitória: Assad, por ter permanecido no poder;
russos e iranianos por terem respaldado o presidente sírio; americanos, europeus, curdos,
turcos, por terem debelado o Estado Islâmico.
Derrotados, mesmo, terminaram os civis, vítimas de uma das maiores crises humanitárias do
mundo.
E os rebeldes sírios, que não derrubaram Assad pela força dos protestos, nem pela
força das armas.